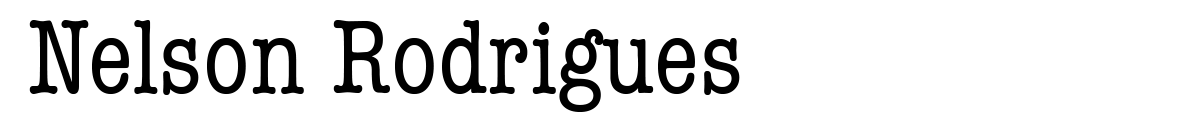NELSON RODRIGUES: a censura me discrimina
Matéria de 10/09/1978
“Todos os presidentes, inclusive depois de 64, me massacraram. Tive oito peças interditadas. A censura usa um tratamento discriminatório contra mim”- afirma Nelson Rodrigues. O autor que revolucionou o teatro brasileiro fala sobre a maneira fortuita pela qual se decidiu a escrever sua primeira peça “A Mulher Sem Pecado” – que deveria ser uma chanchada para ganhar dinheiro e, a partir da segunda página, ficou séria. E conta as dificuldades que teve para convencer o pessoal profissional a aceitar a encenação de “Vestido de Noiva”, sua peça mais famosa, por causa dos planos de ação simultâneos em tempos diferentes: “O pessoal achou que eu estava fazendo piada e dizia que aquilo não poderia ser organizado no palco”.
Nelson Rodrigues fala também dos jornais de antigamente, traçando um quadro do jornalismo dos anos 20 e 30; de política, explicando porque se diz ironicamente um “reacionário”; e condena a tortura, que chama de “a coisa mais hedionda que já apareceu na Terra”.
Quantos anos tinha quando sua família decidiu deixar o Recife e vir para o Rio de Janeiro?
Era menino ainda. Tinha 4 anos de idade. Meu pai estava na miséria e resolveu vir arranjar emprego no Rio. Veio sozinho dizendo à minha mãe que a chamaria logo que conseguisse emprego. Sua intenção era ir para o “Correio da Manhã”. Mas o tempo passava e ele não arranjava o emprego. Minha mãe se impacientou, vendeu todas as jóias – era uma grã-fina de Pernambuco – e veio de navio com todos os filhos. Meu pai caiu no maior pânico do mundo, mas agüentou firme.
No dia da chegada, lá estavam ele e o Olegário Mariano no cais do porto esperando. Meu pai, assombrado, estupefato, caiu nos braços de minha mãe. Meu pai era um ciumento, tinha amor de folhetim, de “Elzira a morta virgem”. Uma coisa atroz. Fomos todos então para a casa de Olegário Mariano.
O poeta das cigarras?
Isso mesmo. O qual aliás teve uma tremenda briga comigo tempos depois. Ele me dizia aos berros pelo telefone: “Eu te matei a fome, desgraçado!” Foi uma discussão terrível, na base do “canalha”, “quebro-te a cara”.
O José Mariano, irmão de Olegário, era amigo de Edmundo Bittencourt e conseguiu arranjar emprego para meu pai no “Correio da Manhã”.
No dia seguinte à minha chegada no Rio de Janeiro – nunca me esqueço disso – num vizinho o gramofone tocava a “Valsa do Conde de Luxemburgo”. Até hoje, quando ouço essa valsa, sinto um vento de nostalgia. Toda aquela atmosfera de repente desaba sobre mim novamente e fico assim meio deslumbrado. Isso era na Rua Alegre, em Aldeia Campista.
Esse foi um bairro que o marcou muito, não é?
Ah, me marcou profundamente. Tanto que nas minhas memórias – sou muito memorialista e mesmo quando não faço memórias tenho sempre lembranças para intercalar – falo da paisagem de Aldeia Campista e das batalhas de confete da Rua Dona Zulmira. Eram fantásticas e tinham uma fama incrível. Não sei a razão, pois naquele tempo não havia as coberturas de televisão. Agora, a TV Globo pega qualquer acontecimento e promove imediatamente, com aquelas nossas queridas estagiárias, ou redatoras, ou repórteres, enfiando microfone na cara até de presidente da República, de rei, de tudo. O cara vem e leva um susto quando vê aquela coisa. Já vi quinhentos caras tomarem susto, embora empolgados com a história de falar na televisão. Porque no Brasil não há um sujeito, incluindo os presentes, que não goste de falar na televisão. Há poucos dias vi um de nossos políticos, um dos maiores, falar na televisão acompanhado por um cortejo de senhoras. Parecia Napoleão na hora em que foi coroado diante do papa.
Parece incrível dizer que aos 13 anos fui repórter de polícia. O sujeito pode dizer: “Esse cara aí está fazendo o interessante”. Mas realmente, aos 13 anos – tinha botado calças compridas para isso – fui trabalhar no jornal de meu pai, “A Manhã”, como repórter de polícia. Hoje é dificílimo descobrir o repórter de polícia na paisagem da redação, porque ele acabou. Hoje são os outros, inclusive as estagiárias, e até redatoras, que fazem a reportagem policial, sobretudo o grande crime. Ah, o grande crime não é mais matéria policial. Qualquer um pode fazer.
Antigamente tinha uns gênios. Por exemplo, havia o “Rui Barbosa do telefone”, um nosso amizade que na redação telefonava para qualquer lugar, para qualquer delegacia, e sabia de tudo. Então, quando cheguei, me apontaram: “Aquele é o Rui Barbosa do telefone”.
A redação era um deslumbramento. Hoje, a redação é essa massa de máquinas e redatores batendo. Uma vez fiz uma reflexão, que atribuo a outra pessoa quando escrevo: as pessoas não pensam mais porque não tem absolutamente mais tempo para isso. Ficam batendo à máquina no meio daquele barulho. De vez em quando alguém conta uma piada e, logo em seguida, recomeça o barulho. Ninguém pensa.
Antigamente havia uma redação estilista. O diretor era o gênio absoluto, o Proust, o dono da língua. Havia sempre um diretor que escrevia, coisa que hoje não precisa. E o sujeito escrevia artigos notáveis. Além disso, de vez em quando, o Edmundo Bittencourt, por exemplo, chegava na redação e perguntava: “Quem escreveu a nota tal?” E metia a mão no bolso e dava uma gorjeta principesca ao autor. Lembro-me de uma nota sobre um guarda que foi enganado por um sujeito. O André Romero, do “Correio da Manhã”, escreveu uma matéria com esse título: “Sem título”. Bonito. O Edmundo deu-lhe uma nota. Havia esse prêmio à coisa bem escrita.
Ao achado?
Ao achado. Tinha evidentemente os analfabetos irremediáveis, mas tinha gente que escrevia bem, que caprichava. Os diretores eram Edmundo Bittencourt, Alcindo Guanabara, Gil Vidal, meu pai Mário Rodrigues, de quem sou admirador feroz. Todos os diretores eram assim.
Esse período é o da década de 20?
É. Ainda nesse período, no jornal de meu pai, o meu irmão Roberto foi assassinado quase na minha presença. Foi o único gênio que conheci na minha vida. Era um artista de cinema, um galã daqueles tremendos, deflorador terrível. Ele aliás era tentado, seduzido pelas mulheres. Entrava numa casa de família e todo mundo se apaixonava por ele. Se havia duas irmãs, eram as duas irmãs. Um negócio tremendo. E, ainda por cima, era um sujeito denso, tinha um negócio assim trágico, fatal, aquela certeza de que ia morrer cedo. Em todas as suas ilustrações, os enforcados, os assassinados, tinham a sua cara.
Estava sentado, conversando com ele, com o chofer Sebastião, com um detetive, o Garcia, que andava por lá batendo papo com a gente, e com o negro Quintino, que só tinha um olho. Era 1 hora da tarde e estava tudo vazio, porque naquele tempo se respeitavam as regras – matutino era matutino. Agora não, tudo é a mesma coisa: só tem matutino. Estávamos lá conversando, quando entrou aquela mulher, numa calma impressionante. Nunca vi ninguém mais calmo na minha vida.
Reconstituindo depois, verifiquei que me espantara essa calma de uma pessoa que entra num ambiente estranho. Deveria entrar sempre meio expectante, sem saber qual seria a recepção. Chegou lá e disse: “O Dr. Mário Rodrigues está?” “Não, ele não está.”, foi a resposta. Foi então até a porta de vaivém, que era na frente da redação, olhou e realmente não tinha ninguém. Se tivesse gente lá, umas cinco pessoas como sempre tinha à noite, teria complicado o desfecho, que poderia ser outro. Porque o fato de ter que atirar no meio de tanta gente modificava a situação. Virou-se então para o Roberto e disse: “O Sr. poderia me dar um minutinho de atenção?”. Lembro-me até do seu perfume. Uma coisa de que nunca me esquecia foi esse perfume. Ela então, muito calma, abriu a porta e entrou. Atrás foi o Roberto.
Dirigi-me para a escada para ir tomar uma média, ou um sanduíche de mortadela, uma coisa dessas. Quando me apoiei no corrimão da escada, ouvi o tiro. Um barulho incrível. Nunca na minha vida tinha percebido que tiro de revólver tinha aquela violência. Não entendi e cheguei a pensar que era suicídio da mulher. Aí corremos todos e o detetive Garcia veio com o revólver na mão, empurrou a porta e todo mundo entrou. Ela disse, quando viu o detetive Garcia armado: “Eu não vou fazer mais nada. Vim aqui matar Mário Rodrigues ou um de seus filhos”.
A coisa que mais me assombrou em toda a minha vida foi aquela calma com que ela disse, no momento em que meu irmão estava ali mortalmente ferido: “Ou um de seus filhos”. Mário Rodrigues não tinha nada com o peixe e meu irmão também, que era apenas desenhista. Meu pai dizia durante o velório a todo mundo que ia abraçá-lo: “Essa bala era para mim!” E era. Roberto era um inocente, era a própria inocência.
Verifiquei uma coisa impressionante. Num caso como esse não se pensa no assassino. Quem tentou o homicídio não tem a menor importância. O que importa é salvar o ferido. Só pensei em salvar o ferido, todo mundo só pensou nisso, enquanto o detetive Garcia segurava a criminosa. Roberto estava deitado no chão e quando o crioulo Quintino foi carregá-lo – não me esqueço – ele pediu: “Cuidado, cuidado”. A bala penetrara na espinha e qualquer movimento provocava dor. Meu pai era um desses sujeitos que tem um incrível sentimento paterno e aquilo foi uma catástrofe para ele.
A fama que seu pai deixou foi a de um jornalista de uma extrema violência de linguagem. O tipo de jornalismo que ele fazia justificava esse tipo de reação passional?
Dou-lhes um exemplo para mostrar como era meu pai. Uma vez o governador de Pernambuco mandou comprar meu pai, que estava fazendo uma campanha contra ele. Meu pai ainda mantinha relações e raízes em Pernambuco. Foi-lhe oferecida como suborno a quantia de 10 contos de réis, que era uma fortuna colossal na época. Meu pai então pensou numa boa: denunciar o negócio e oferecer os 10 contos aos pobres do Rio de Janeiro.
No dia da distribuição, na rua 13 de Maio, instalou-se ali um pátio dos milagres: todas as doenças estavam representadas. Lembro-me de um crioulo que deu um salto em cima de meu pai e lhe beijou a mão. Não sei se é verdadeira essa minha impressão, mas com a minha imaginação de ficcionista pensei que era um leproso, que se escondera com o pudor da lepra. Cada pobre recebeu 10 tostões. Foi um sucesso incrível.
Voltando um pouco ao assassínio de seu irmão: esse episódio marcou muito a sua obra?
Marcou a minha obra de ficcionista, de dramaturgo, de cronista, assim como a minha obra de ser humano.
Durante quanto tempo foi repórter de polícia?
De dois anos e meio a três.
Chegou realmente a cobrir algum crime importante, ou ficava mais na redação?
Fazia a cobertura, sim. Lembro-me do caso de um homem que foi assassinado na Tijuca. Cheguei ao local e lá estava o comissário dizendo: “Esse pessoal fica telefonando para a “Crítica” (era o jornal de meu pai) e só depois avisa a polícia.” O cara estava furioso, fazendo um verdadeiro comício.
Quando seu pai morreu, com quem ficou o jornal?
Com meus irmãos Mário Filho e Milton Rodrigues
Esse jornal se transformou depois no “Jornal dos Sports”?
Não. Esse jornal existiu até o dia da Revolução de 30, quando foi empastelado. Há aí um episódio curioso envolvendo eu e meu irmão Joffre, mas antes queria lhes dizer como era ele. Joffre foi o único sujeito que já vi meter medo num louco. Tinha um louco na redação que só mantinha lá porque todo mundo tinha medo dele. Como então despedir o louco? E ele ia ficando. Quando chegava, mudava a fisionomia na redação, a atmosfera era outra. Só quando saía é que todo mundo voltava ao estado normal.
Um dia esse louco estava metendo o pau em Mário Filho, quando chega meu irmão Joffre. Ao ouvir aquilo, Joffre virou-se para ele e passou-lhe a maior descompostura. Chamou o nosso louco de tudo o que ele podia ser.
Pois bem, no dia em que estourou a Revolução de 30, tomamos um automóvel, ele e eu, pensando em passar na “Crítica” e mandar fazer a notícia, com a mais santa ingenuidade. Pouco antes de chegarmos, já vinha saindo a multidão que empastelara o jornal. Meu irmão Joffre queria simplesmente descer do carro e brigar com aquela massa. Tive que segurá-lo e pedir ao chofer que seguisse. E o chofer ficou vagamente indeciso se seguia ou nos entregava à multidão.
A que exatamente atribui a sua atração pela reportagem policial? Podia ter começado no jornal em outro setor, mas preferiu esse...
Pelo negócio de morte, pelo pacto de morte. Desde garoto sou fascinado pela morte. Em vez de ter medo, ia peruar enterro. Não tinha medo nenhum, e volta e meia me infiltrava nos velórios. Achava uma coisa fantástica a chama das velas. Hoje os nossos velórios perderam isso, é tudo luz elétrica. Uma coisa incrível, uma falta de respeito. Antigamente havia os gemidos e os gritos na hora do enterro. O enterro era apaixonante. Entrava todo mundo assim, de cara de pau. Hoje a capelinha desmoraliza a dor. Antigamente, a hora de sair o enterro era uma coisa tenebrosa.
Quando esse repórter de polícia, cheio de fascinação pela morte, se transforma num dramaturgo?
Foi na altura de 1937. Já tinha estado em Campos do Jordão, tuberculoso. As tristezas que sofri lá não se descrevem. Foram as minhas “Recordações da casa dos mortos”. Quando fiquei tuberculoso, estava um esqueleto coberto por um leve revestimento de pele. Havia um espelho em frente a cama e era tal o horror que tinha da minha própria figura que cobri esse espelho com um lençol, para não me ver. O médico me examinou e determinou que tinha de ir para Campos do Jordão. Disse que conhecia lá um colega que cuidava dos Sanatorinhos. Sanatorinho era coisa para a pobreza violenta. Não me disse isso. Disse apenas que era de graça.
Quando cheguei, o médico me deu o serviço rapidamente. Lá, eu era indigente. Não pagava nada, mas fazia pequenos serviços, de arrumação, de garçon, etc, como os outros indigentes. A palavra indigente... Estava no “Globo”, onde o pessoal me conhecia e alguns achavam que tinha talento. O Roberto Marinho achava que eu tinha talento. E essa palavra indigente me humilhou pra burro, de maneira mortal. Perguntei ao médico quanto se pagava na outra parte do sanatório, e ele me disse que a mensalidade era de 150 mil réis. Respondi que aceitava. Usaria o meu dinheiro que estava indo para minha mãe, para ajudar, porque todo mundo vivia no regime de fome.
Estava tuberculoso por causa da fome. Era fome, no duro. Uma vez, num carnaval, fui a pé da antiga Galeria Cruzeiro até o limite de Copacabana com Ipanema para comprar três pães de cem réis. Já estava faminto e muito fraco, de forma que quando cheguei em Copacabana resolvi tomar um bonde. Fiquei tapeando o condutor, para não pagar. Comprei os pães e fui procurar uma casa onde se vendia um prato de feijão. Quando fui comer o feijão, tinha uma barata. Porque na fome tudo acontece. Não se trata apenas da fome em si, mas também das outras coisas. As pequenas não querem nada com você. Você não dá gorjeta e o garçom o trata como um mendigo. Confesso a vocês que afastei aquele importuno e comi o feijão. A fome não tem limites. As pessoas fazem aquilo que jamais pensaram que fossem capazes de fazer, quando passam fome.
Naquela imprensa patriarcal de que estamos falando, o dono do jornal era considerado como uma espécie de pai. E, dentro daquela tradição paternalista, quando o sujeito adoecia a empresa pagava tudo. Não houve isso no seu caso?
Houve sim. Roberto Marinho pagou os meus vencimentos integrais por três anos, durante todo o tempo em que estive doente. Recaí da tuberculose cinco vezes e estive em Campos do Jordão três vezes. No caso da tuberculose, naquele tempo, era preciso ter sorte e a lesão não ter nenhuma aderência.
A minha tristeza em Campos do Jordão era uma coisa terrível. Não se tratava apenas de mim. Havia o ambiente e os tipos que me cercavam. A tosse, por exemplo. A partir das duas da manhã, era uma sinfonia de tosses, de todos os tipos e de todos os tons. E as escarradeiras? Todo mundo tinha. Algumas eram artísticas, prateadas, com desenhos em relevo. Logo que cheguei não sabia dessas coisas e vi um sujeito abrir uma espécie de lata muito bonita. Abriu com cuidado e fiquei olhando: “Mas que coisa bonita.”, disse para mim mesmo. Era a escarradeira.
A meu lado, dormia um garotinho estrábico, o Tico-Tico. Ele tossia sempre como todo mundo até uma noite, após um acesso de tosse, disse de repente: “Sangue”. Essa era a grande história: quando o sujeito dizia sangue, todo mundo saía porque tinha o que os médicos chamavam de “ligeira piora”. Isso se o cara não morria no ato. Outra vez, quando já estava numa pensão e não no sanatorinho, chegou uma moça linda que vinha da feira. Estava tocando uma rumba no rádio. Parou, teve um espasmo e - sangue. Imediatamente a levaram para cima. Morreu no dia seguinte, boiando no próprio sangue e pedindo: “Me salve, doutor, me salve”.
Tudo isso parece ter reforçado a visão trágica que sempre teve da vida.
A minha vida não faz graça para ninguém. Tive tudo, sofri tudo. Há poucos anos, por exemplo, estava em casa calmamente, caiu um temporal e houve um desabamento na rua em que morava meu irmão Paulinho. Até de madrugada teve-se a ilusão de que ele poderia escapar. Mas morreu. Tenho na minha vida um arsenal de fatos incríveis.
Em todo escritor a biografia exerce uma influência grande, mas no seu caso ela parece maior ainda, um elemento preponderante.
Sem dúvida.
Voltemos a questão de há pouco: quando o repórter de polícia se transforma no dramaturgo?
Um dia passo pela porta do Teatro Rival, onde estava representando o Jaime Costa. Era uma peça do Raimundo Magalhães Júnior, “A família lero-lero”. Parei e veio um conhecido meu que trabalhava no teatro e me disse que a peça estava dando os tubos. Informei-me depois e era verdade: dava uma fortuna. Disse a mim mesmo: “Vou fazer uma chanchada e ver se dá dinheiro. Pode ser que sim.” Precisava de dinheiro para mim, para a minha família. Animei-me e fui escrever a chanchada.
Vejam o que é o segredo da carreira de um autor brasileiro. Comecei a escrever e, na segunda página, aquela peça – “A Mulher Sem Pecado” – ficou séria. E a cada página foi ficando mais séria. Não fiz nenhuma concessão ao humor. Fiquei surpreso, vagamente divertido e impressionado com isso. Era no tempo do Estado Novo, um tempo em que se o sujeito se chamasse Vargas, ainda que por acaso, ou seja, mesmo que não tivesse nenhum parentesco com os Vargas, tinha um prestígio automático. Meu irmão Mário Filho era amicíssimo do Vargas Neto, que tinha dado emprego ao diretor do Serviço Nacional de Teatro.
O Vargas Neto era um sujeito afetuoso. Quando era amigo, era amigo mesmo e fazia favores incríveis. Deu-me uma carta formidável. Levei-a ao diretor do SNT, que me atendeu prontamente, e a minha peça foi representada. “A Mulher Sem Pecado” foi levada no teatro Carlos Gomes pela Comédia Brasileira, que era a companhia oficial. Era em dezembro e fazia um calor de rachar catedrais. Entre as muitas pessoas que assistiram à peça estava a viúva Marinho, convidada por mim. Para mim foi um deslumbramento.
Fez sucesso a peça?
Fez um sucesso relativo. De crítica, mas não de crítica especializada. Da crítica intelectual: Santa Rosa, Álvaro Lins e Manuel Bandeira escreveram coisas espantosas sobre “A Mulher Sem Pecado”, que não era ainda “Vestido de Noiva” mas tinha uma audaciazinha. Sobretudo, não tinha nada de chanchada.
Quando vi que o negócio dava certo, comecei a pensar em Vestido de Noiva”. Imaginei aqueles planos de ações simultâneas em tempos diferentes e comecei a trabalhar furiosamente. Chegava em casa todo o dia às 10 horas da noite, jantava, descansava um pouco e fazia a metade de um ato de “Vestido de Noiva”. No dia seguinte outra metade. Acabei rapidamente a peça e fiz uma revisão geral.
Todo o pessoal profissional achou que eu estava fazendo piada. Diziam: “Você não vê que isto aqui não pode ser organizado no palco?” “Então, paciência. O azar é meu.” – era a minha resposta. Todo mundo recusou a peça.
Qual era a sua informação intelectual sobre teatro? Tinha alguma informação sobre teatro moderno, ou agiu mais por intuição?
Vou lhes dizer o seguinte, sob a minha palavra de honra: de teatro tinha lido exatamente – e tinha lido bocejando – a “Maria Cachucha” do Joacy Camargo. Era essa a única informação que tinha sobre teatro.
Era pelo menos um freqüentador assíduo?
Podia ser, mas não era. Garoto de 12 anos, ia para a porta do Trianon, que era um teatro pequeno e aconchegante – Procópio Ferreira estreou lá – e olhava tudo aquilo com um certo deslumbramento. Achava tudo formidável – os atores, a platéia. Aquilo me fascinou assim vagamente.
Como chegou a idéia dos planos de ação diferentes?
Imaginei primeiro o sujeito na realidade, depois sonhando e delirando. Precisava então de um plano para a realidade, outro para o sonho e outro para o delírio. A idéia para a peça surgiu assim. Estava no arquivo do “Globo” e tinha lá uma fotografia de velório. Foi a partir dessa foto que comecei a imaginar a peça. Aliás, foi no velório de Madame Clessy que fiz aquilo.
Madame Clessy... Naquele tempo a Conde Lajes era o ponto alto do grafinismo da prostituição. Madame Clessy era uma gaúcha linda. Ficava besta: “Mas como é que ela está na vida?” – perguntava a mim mesmo. Daí é que veio a minha idéia de que a prostituta é vocacional. Fiz grandes investigações nos prostíbulos e nunca encontrei uma prostituta triste, uma prostituta que não tivesse a maior, mais absoluta, a mais plena satisfação profissional. Diziam-me que trabalhar é chato.
Por isso é que digo que a prostituta é vocacional. Se não é assim, por que a menina bonita e jeitosa vai para aquela vida e fica satisfeita? Por que ela não se mata? A prostituta só se mata por dor de cotovelo, quando seu cáften arranja outra e a abandona. Só assim. Fora disso não há suicídio de prostituta. Há suicídio de mulher honestíssima, mas não de prostituta.
Hoje é reconhecido no Brasil inteiro que sua obra operou uma revolução no nosso teatro. Essa revolução foi consciente ou resultou de uma série de circunstâncias independentes de sua vontade?
Houve uma circunstância importante que foi o meu encontro com os Comediantes, que tinham Ziembisnki, um europeu que conhecia bem o teatro europeu.
Uma nova concepção de cenografia?
Uma nova concepção de cenografia eu não diria. O nosso querido Ziembisnki andou espalhando durante um certo tempo que reescrevera comigo “Vestido de Noiva”. Imaginem se não tenho trezentas testemunhas de que “Vestido de Noiva” é exatamente aquilo que escrevi. Além disso, a peça foi consagrada como texto antes do espetáculo.
É utilizado o coro na peça. Isso não teria sido sugerido pela leitura do teatro grego? Ou realmente foi pura intuição?
Foi pura intuição mesmo, se quisermos chamar isso de intuição. Aliás, confessei que só tinha lido a “Maria Cachucha” do Joracy Camargo apenas depois que estava mais consolidado como autor. Antes não confessava, porque iam dizer: “Esse cara aí só leu essa peça do Joracy Camargo e quer dizer que é autor teatral? Ou ele é um cínico ou uma besta.”
Como conseguiu vencer tantas barreiras – quebrando padrões estabelecidos e superando dificuldades cênicas – e encenar “Vestido de Noiva”?
Em primeiro lugar, havia Ziembisnki, que fez um trabalho espetacular. Foi a melhor coisa que ele fez no Brasil. Sua direção foi sensacional. Ficou possuído pela peça.
“Vestido de Noiva”estreou em pleno Estado Novo. Seu teatro inovador não teve problemas com a censura?
Não, e novamente por causa da influência de Vargas Neto, que interferiu junto ao chefe da censura de então.
Como reagiu ao êxito de “Vestido de Noiva” e como ele repercutiu em sua vida? A partir de então ficou conhecido e além disso deve ter ganho algum dinheiro.
Não queria matar ninguém mas, em matéria de miséria, era um Raskolnikof, até “Vestido de Noiva”. Uma vez Roberto Marinho chamou meu irmão Mário, levou-o até a varanda, ali na Rua Bittencourt da Silva, e disse-lhe: “Mário, diz ao Nelson que precisa tomar cuidado. Hoje ele está cheirando mal”. Era uma camisa que durava há uma semana o corpo. Usava a mesma roupa dois meses, porque dinheiro para lavar roupa era um problema. Então, eu era esse homem que cheirava mal.
No dia da estréia de “Vestido de Noiva” fiquei andando em torno do Municipal antes do início do espetáculo. O teatro tinha aqueles porteiros da “belle époque” com uniformes azuis e botões dourados. Lembro-me que um tinha uns bigodões enormes. Quando abriram as portas, subi lentamente as escadas e fui lá dentro. Quando ia voltando, vi entrar, como o primeiríssimo espectador, o Manuel Bandeira, que já tinha escrito dois artigos sobre a peça. Foi exatamente a primeira pessoa a entrar, uma espécie de paraninfo da peça. Perguntou-me como iam as coisas e respondi, meio desanimado, que iam mais ou menos e tal.
Aquela estréia foi um ato suicida. Imaginem todo mundo vaiando. Com a fama da peça, admitia que a turma não topasse a inovação e arrebentasse lá uma vaia. Minha mãe estava na platéia e imaginem ela me vendo vaiado! Daí a pouco fui para fora e só voltei quando a peça ia começar e todo mundo já estava sentado. A melhor platéia do Brasil – embaixadores, intelectuais, etc.
Quando a peça começou, fui para a antecâmara do camarote das minhas irmãs e fiquei ouvindo. E gozado: embora o público nada saiba de uma peça, tem conforme o caso uma certa intuição de sucesso. De sucesso ou pelo menos de barulho, de movimento. Acabou o primeiro ato. Duas palmas contadas a dedo. Disse a mim mesmo: estou liquidado, para mim não há jeito.
Eram a sua mãe e o Manuel Bandeira?
É possível. Vem o segundo ato e ele termina de um jeito que não produz o gesto incoercível da palma. Uma palma e meia. Estou super- liquidado, pensei – pois nem minha mãe me aplaude. Resolvi olhar a cena e houve uma coincidência: justo nesse instante, uma vasta cruz que estava lá desabou. Se pegasse num artista matava. Voltei para a minha antecâmara, mas já sem nenhuma esperança.
Acabou o último ato, e nenhuma palma. Pronto, disse, agora é o fim. Aí começaram duas, três palmas, em direções diferentes. E, de repente, foi a apoteose, uma coisa incrível. Todo mundo me chamando de Pirandello. Naquele tempo, todo o autor que não fosse um débil mental era pirandelliano. Roberto Marinho veio abraçar-me. Quando ia descendo as escadas, Álvaro Lins caiu nos meus braços. Chamou o Paulo Bittencourt, que rasgou um elogio. O Paulo Bittencourt chegou no “Correio da Manhã” e escreveu um tópico – o jornal tinha então uma seção de tópicos – botando “Vestido de Noiva” nas nuvens, dizendo que era uma página nova no teatro brasileiro.
Dois dias depois, Fred Chateaubriand chamou-me para almoçar e convidou-me para dirigir “O Detetive” e “O Guri”, do grupo dos Associados. Imediatamente passei a ganhar seis vezes mais. Tudo por causa de “Vestido de Noiva”. De repente fui outra pessoa, social e humanamente. Descobri em mim coisas que não tinha coragem de descobrir. Era realmente um outro homem.
Depois surgiu Suzana Flag. Por que adotou esse pseudônimo em vez de usar seu próprio nome?
Gosto muito de escrever folhetim e queria ter mais liberdade. Acho folhetim um gênero de concessão, um gênero no qual o sujeito pode fazer concessão à vontade.
Dá alguma importância aos folhetins de Suzana Flag?
Dou importância sim.
Eles venderam bem?
Venderam incrivelmente.
Quais as diferenças que vê entre o jornalismo de antigamente, pelo qual parece ter uma grande admiração e um grande fascínio, e o de agora?
O jornal de hoje, por exemplo, é o jornal da véspera. Ele acaba ontem. Isso a meu ver significa uma modificação substancial. Antigamente, meia hora depois do fato, os jornais já estavam noticiando.
E a televisão? Para alguém que vem de uma época em que nem se pensava que ela fosse existir, como é o seu caso, ela é um gênero, digamos definitivo, ou ainda está procurando a sua fórmula?
É possível que a televisão ainda não tenha encontrado a sua linguagem própria. Eu mesmo às vezes fico insatisfeito com ela.
Não lhe parece que o brasileiro está perdendo o hábito da leitura, se é que já o teve, e que a televisão desempenha um papel importante nisso?
A partir do momento em que uma imagem aparece e desaparece, ela perde para a linguagem escrita que perdura. Esse é um aspecto fundamental do problema, que deveria colaborar para tornar os dois gêneros coexistentes. Fazendo um jogo de palavras, diria que a leitura é sobretudo a releitura. Reli muitas vezes “Crime e Castigo”, “Os irmãos Karamazov”, “Ana Karerina”, Machado de Assis, porque apenas a leitura não basta. É preciso a reeleitura, para que haja uma relação mais profunda entre o leitor e o que ele lê. Com a televisão, com a imagem, isso não é possível. A leitura é mais inteligente, porque estabelece não só uma relação mais profunda, como também uma intimidade maior entre o leitor e o livro.
O texto literário continuará existindo daqui a 1200 anos. Ele não morre, porque se ele morrer o mundo começará a morrer junto.
Já que tocou na literatura, como vê as relações dela com a política?
Sou contra a mistura dessas coisas. Mas não incluo nesse caso, por exemplo, o sujeito que menciona ou narra um fato como o assassínio de Rosa de Luxemburgo. Não. Isso é material de primeira ordem. Não gosto é quando o sujeito resolve fazer aquilo que desgostava profundamente Marx e Engels, ou seja, propaganda e não literatura. Eles preferiam mil vezes Balzac a Zolá. Nisso, por acaso, coincido com o nosso amigo Marx.
“Vestido de Noiva” mudou sua vida, como diz, mas a sua fase de maior popularidade foi com “A Vida Como Ela é...”, na época da “Última Hora”. Era então muito criticado pelos que a esquerda chamava de direitistas, como Carlos Lacerda. Na comissão parlamentar de inquérito sobre a “Última Hora”, Lacerda citou vários trechos de crônicas suas de “A Vida Como Ela É...”, afirmando que aquela era uma tentativa comunista de desmoralizar a instituição da família brasileira. Lidas por Lacerda, com o seu talento de orador, as crônicas causaram um certo espanto, pela liberdade de linguagem usada e pelas situações chocantes para a época. Algum tempo depois de sua saída da “Última Hora” e de sua ida para o “Globo”, ocorre uma mudança: passaram a atacá-lo os que a direita chamava genericamente de esquerdistas. Quem mudou: a esquerda ou Nelson Rodrigues?
Ninguém pode me chamar justamente de homem de direita, quando a pior, a mais bestial, a mais brutal, a mais ignóbil direita do mundo é a Rússia. Os russos pegam os intelectuais dissidente e os atiram nos hospícios e eu é que sou direitista? Ora, isso é uma das maiores piadas do mundo. É nos países socialistas que já anti-homem, a negação do homem. A Revolução russa começou como a negação de si mesma, como a anti-revolução e sempre foi a contra-revolução. Diante dessa evidência, o que acham que posso pensar quando alguém ousa atribuir esquerdismo à Russia? Agora mesmo estão condenando intelectuais russos a trabalhos forçados. O que ainda é uma grande sorte para eles. Pior seria o hospício.
Como se define politicamente?
Sou um libertário.
Pela sua vida, que nos está contando, e pela sua obra, está muito mais próximo dos “humilhados e ofendidos” do que dos poderosos.
Exatamente.
Ao mesmo tempo, você se autodefine como um reacionário.
Não me obriguem a colocar uma tabuleta com a inscrição – ironia – nas minhas coisas. Se o comunista é esquerdista, é libertário, então sou “reacionário”.
Você conseguiu introduzir inovações importantes no teatro brasileiro. Acha que conseguiria fazer isso num regime socialista?
Eles achariam graça quando eu aparecesse. Vejam: a literatura russa hoje é pior que a do Paraguai. Ela sai de Dostoievski, de Tolstoi, e vai para no Paraguai. Por quê? Por que todo mundo ficou burro? Não.
Voltemos ao Brasil. Como se sente diante do problema da censura?
Todos os presidentes, inclusive depois de 64, me massacraram. Tive oito peças interditadas. A censura usa um tratamento discriminatório contra mim.
É contra a censura, então?
A censura só tem uma justificativa: pode existir apenas para fixar impropriedades, ou seja, para estabelecer que a peça tal não pode, por exemplo, ser vista por garotos de 12 anos.
Entre os autores nacionais importantes, você foi um dos últimos a utilizar o palavrão. No entanto, tem a fama de ser um dos primeiros. Por quê?
Realmente, muitos dos nossos autores modernos pensam e dizem que sou o introdutor do palavrão. É que a violência, a densidade, a força, o impacto das minhas peças dão ao espectador a sensação de que ouviu trezentos palavrões. Eles vão para casa com essa sensação.
O que acha do uso do palavrão no teatro?
Todas as palavras são rigorosamente lindas. Nós é que as corrompemos. No caso do palavrão ocorre justamente isso: corrompemos a palavra. Eu, sem querer, deixei de dizer palavrões. Na vida real não digo mais. Porque agora as senhoras mais distintas – vovozinhas, mães, tias, todas – dizem palavrões com a maior e mais generosa abundância. O palavrão está corrompido pelas mulheres.
Você fez uma série de críticas à degradação do regime comunista com as quais todos estamos de acordo. Mas não há no seu caso uma certa contradição entre aquela posição e o fato de ter sido extremamente tolerante com a fase mais negra do atual regime brasileiro, quando a censura foi rigorosa e ele foi de uma extrema violência, com a tortura sendo admitida como sistema legítimo de arrancar confissões? Não lhe parece que a coerência exigiria que fosse também contra a direita, quando ela instaura um regime que nega a liberdade e implanta a tortura ,como foi o caso no governo Médici?
Tive relações pessoais com o presidente Médici. Conversamos muitas vezes e ele me convenceu de que, se fizessem tortura no Brasil, isso em primeiro lugar seria imbecil. Não tive nenhuma informação de tortura.
Claro que a tortura é a coisa mais hedionda que já apareceu na Terra. Isso é o óbvio ululante. Jamais na minha vida fui favorável a tortura. Jamais seria a favor de uma coisa que é uma torpeza. Todo o meu horror à Russia e aos vermelhos se deve justamente a isso.
Mas como é possível que, vivendo no meio jornalístico, não tenha conhecimento da tortura, quando se sabe que em praticamente todas as redações do Rio de Janeiro há pelo menos um caso de tortura?
O meu horror à tortura e à censura, é tão grande ou maior do que o de vocês. Por uma série de motivos. Eu tenho um filho que está preso e condenado a 50 anos. Tenho, portanto, de ter uma posição muito nítida.
Já que tocou no problema de seu filho, vamos fazer então uma pergunta direta sobre o caso dele, embora talvez dolorosa para você. Seu filho foi torturado?
Sim, meu filho foi torturado.
Agora, o que não entendi é onde encontram elementos para dizer que sou benevolente com a tortura.
O que dissemos é que emprestou, em vários artigos, uma certa solidariedade política aos governos de Revolução durante a fase mais dura da tortura e da censura. E que não devotava a um regime de direita que agia assim a mesma hostilidade que demonstra para com os regimes de esquerda que praticam aquelas ignomínias que apontou.
Pois saibam que devoto à direita o mesmo horror que tenho pela esquerda. E dedico um desprezo e uma indignação ainda mais profundos a qualquer espécie de tortura. Eu sou obviamente – meu Deus do céu! – por todas as razões, inclusive por razões pessoais, um enjoado absoluto com a ignomínia.