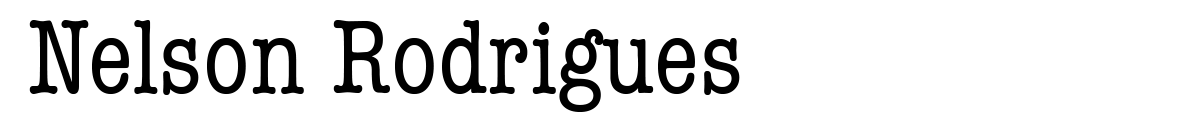A verdadeira apoteose é a vaia
Matéria de 22/01/1969
Ah, fui sim, uma das maiores vaidades deste país. Bem me lembro de minha iniciação dramática. Diz Jouvet que não há teatro sem sucesso. Ele escrevia em francês e qualquer bobagem em francês soa como uma dessas verdades inapeláveis e eternas. Repito que a nossa francesa pensa pelo autor e pelo leitor e convence os dois. O que eu queria dizer é que, com “Vestido de Noiva”, conheci o duplo sucesso de crítica e bilheteria.
Era ainda a época de Pirandello. Qualquer autor, que não fosse um débil mental de babar na gravata, tinha de ser pirandeliano. Pirandello estava por aí, difuso, volatilizado, atmosférico. Todos nós o respirávamos. Na estréia de “Vestido de Noiva”, as pessoas diziam-me excitadíssimas: - “Pirandello! Pirandello!” Eu não lera, ainda, uma linha do famoso autor. Mas fazia o ar de quem passava os dias e as noites, lendo, com delícia e proveito, o meu Pirandello.
O ditirambo foi o meu vício, espécie de inefável ópio. Devia dar-me por satisfeito com os elogios histéricos. Mas queria mais. Eu ainda não sabia que nada compromete mais, e nada perverte mais do que a unanimidade. E minha vaidade assumia uma forma obsessiva e feroz. Ocorreu-me um novo recurso promocional, que era o seguinte: - eu próprio escreveria sobre mim mesmo e faria com que amigos assinassem. Assim fiz. E os amigos foram de uma solidariedade cínica e esplêndida. Assinavam tudo e com radiante impudor.
Mas a minha vizinha, gorda, patusca e cheia de varizes, vive dizendo – “Tudo acaba”. E, no fim de certo tempo, houve em mim um processo de saturação. Com pouco mais, percebi que minha vaidade estava exausta. Primeira providência: - não escrevi mais uma linha para que terceiros assinassem. Segunda providência: - comecei a fugir de meus admiradores.
Subitamente percebi toda a verdade. Os admiradores comprometem ao infinito, e repito: - os admiradores corrompem também ao infinito. Até que um dia, tive um tempo vago e fui ver um vaudeville. Sucesso total. Lotação esgotada. Enquanto as gargalhadas explodiam, eu, no meu canto, exalava minha cava depressão. No meio do terceiro ato descobri uma outra verdade. Ei-la: - o teatro para rir, o teatro, com esta destinção específica, é tão absurdo e, mais, tão obsceno como seria uma missa cômica.
Vocês entendem? Vamos imaginar uma missa. Todos os fiéis de joelhos. E, de repente, o padre começa a virar cambalhotas; o coroinha começa a equilibrar laranjas no focinho como focas amestradas; e os santos a engolir espadas. Entraria um segundo padre, elástico, acrobático, como as passistas de Carlos Machado. Pandeiro, cuícas, tamborins. Eis que eu queria dizer: - o vaudeville deu-me, exatamente, a sensação de tal missa de gafieira.
Saí do Feydeau com todo um novo projeto dramático (digo “novo” para mim). O que teria eu de fazer, até o fim da vida, era o “teatro desagradável”. Brecht inventou a “distância crítica” entre o espectador e a peça. Era uma maneira de isolar a emoção. Não me parece que tenha sido bem sucedido em tal experiência. O que se verifica, inversamente, é que ele faz toda a sorte de concessões ao patético. Ao passo que eu, na minha infinita modéstia, queria anular qualquer distância. A platéia sofreria tanto quanto o personagem e como se fosse também personagem. A partir do momento em que a platéia deixa de existir como platéia – está realizado o mistério teatral.
O “teatro desagradável” ofende e humilha e com o sofrimento está criada a relação mágica. Não há distância. O espectador subiu ao palco e não tem a noção da própria identidade. Está ali como o homem. E depois, quando acaba tudo, e só então, é que se faz a “distância crítica”. A grande vida da boa peça só começa quando baixa o pano. É o momento de fazer nossa meditação sobre o amor e sobre a morte.
“Álbum de Família”, a tragédia que se seguiu a “Vestido de Noiva”, inicia meu ciclo do “teatro desagradável”. Quando escrevi a última linha, percebi uma outra verdade. As peças se dividem em “interessantes” e “vitais”. Giraudoux faz, justamente, textos “interessantes”. A melodia de sua prosa é um luminoso disfarce de sua impotência criadora. Ao passo que todas as peças “vitais” pertencem ao “teatro desagradável”. A partir de “Álbum de Família”, tornei-me um abominável autor. Por toda a parte, só encontrava ex-admiradores. Para a crítica, autor e obra estavam justapostos e eram ambos “casos de polícia”.
Depois viriam “Anjo Negro”, “Senhora dos Afogados”, “Dorotéia”, “Perdoa-me Por Me Traíres”. Esta última estreou no Teatro Municipal. Embora sendo o pior ator do mundo, eu representei. Era a maneira de unir minha sorte à de uma peça que me parecia polêmica. Muito bem. Os dois primeiros atos foram aplaudidos. Nos bastidores, imaginei: - “Sucesso”. Mas ao baixar o pano, no terceiro ato, o teatro veio abaixo. Explodiu uma vaia jamais concebida. Senhoras, grã-finérrimas, subiam nas cadeiras e assoviavam como apaches. Meu texto não tinha um mísero palavrão. Quem dizia os palavrões era a platéia. No camarote, o então vereador Wilson Leite Passos puxou um revólver. E, como um Tom Mix, queria, de certo, fuzilar o meu texto. Em suma: - eu, simples autor dramático, fui tratado como no filme de bangue-bangue se trata ladrão de cavalos. A platéia só faltou me enforcar num galho de árvore.
A princípio, deu-me uma fúria. Sempre digo que a coragem é um momento, a covardia é um momento. Tive, diante da vaia, esse momento de coragem. Naquele instante, teria descido para brigar, fisicamente, com mil e quinhentos bárbaros ululantes. Graças a Deus, quase todo o elenco pendurou-se no pescoço. Mas o que insisto em dizer é que estava isento, sim, imaculado de medo. Lembro-me de uma santa senhora, trepada numa cadeira, a esganiçar-se: - “Tarado! Tarado!”.
E, então, comecei a ver tudo maravilhosamente claro. Ali, não se tratava de gostar ou não gostar. Quem não gosta, simplesmente não gosta, vai para casa mais cedo, sai no primeiro intervalo. Mas se as damas subiam pelas paredes como lagartixas profissionais; se outras sapateavam como bailarinas espanholas; e se cavalheiros queriam invadir a cena – aquilo tinha de ser algo de mais profundo, inexorável e vital. “Perdoa-me Por Me Traíres” forçara na platéia um pavoroso fluxo de consciência. E eu posso dizer, sem nenhuma pose, que, para minha sensibilidade autoral, a verdadeira apoteose é a vaia. Dias depois, um repórter veio entrevistar-me: - “Você se considera realizado?” Respondi-lhe: - “Sou um fracassado”. O repórter riu, porque todas as respostas sérias parecem engraçadíssimas. Tive de explicar-lhe que o único sujeito realizado é o Napoleão de hospício, que não terá nem Waterloo nem Santa Helena. Mas confesso que, ao ser vaiado, em pleno Municipal, fui, por um momento fulminante e eterno, um dramaturgo realizado, da cabeça aos sapatos.
Resta lembrar que essa onda de lembranças teatrais tem um motivo: - a representação, em São Paulo, de minha peça “A Última Virgem”. Para meu desprazer e humilhação, o público não vaiou. Aplaude por equívoco, mas aplaude. Felizmente, os críticos paulistas, segundo me informam, não estão metendo o pau. A vaia impressa não deixa de ser uma compensação.